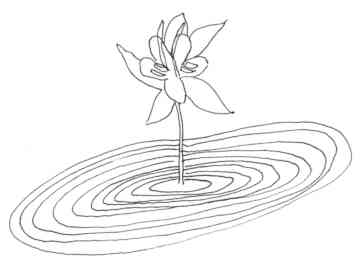O patrão
Fernanda Ma. Gonçalves Almeida
Apresentação em “O patrão” - segunda edição - 2013
A tessitura de O patrão é construída no ambiente rural, recompondo urdiduras das tradicionais propriedades capitalistas e suas formas de exploração do solo e da força de trabalho. Embora retrate meios de produção e organização das relações travadas entre patrões e trabalhadores na Bahia, vale a generalização para espaços produtivos ao longo do território nacional, e de outros, visto que não é acidental, contingente ou localizado, e sim determinado estruturalmente; no caso brasileiro, inclusive reforçado pela matriz do processo colonialista — extrativista e escravista dos primeiros séculos — constituindo o âmago da criação da riqueza no território. Essa essência perdura durante os quatro primeiros séculos, e mesmo com as transformações econômico-produtivas, políticas e sociais ocorridas no final do XIX e acentuadas nas últimas décadas do XX, permanece se reproduzindo no real e nas imagens das relações produtivas contemporâneas, embora já em dispersão e com tendência a exaurir-se num futuro próximo.
Como Caio Prado Júnior, Raymundo Faoro, Gilberto Freyre e outros grandes intérpretes da formação da nossa sociedade, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1936), traduz e avalia mitos demiúrgicos dessa engenharia, ao tempo em que desconstrói a ideia da nossa “democracia”, na medida em que expõe a radical distância entre os “donos do poder” e os trabalhadores conforme Faoro (1958).
Esse último autor, entre outras, refere-se à expressão coronelista em oposição à servidão, tomando-a como reminiscência do feudalismo, e instituída pelos colonizadores, que sofre seu primeiro impasse com as reformas pombalinas. Buarque de Holanda situa o ensaio de transformação mais sistemático, em 1888, no que ele denomina de nossa Revolução Vertical, ou seja, de cima para baixo, quando se dá, não, simplesmente, a inadiável — e superficial — Abolição da Escravatura, mas o cessar do
funcionar alguns dos freios tradicionais contra o advento de um novo estado de coisas, que só então se faz inevitável. Apenas nesse sentido é que a Abolição representa, em realidade, o marco mais visível entre duas épocas (op.cit., 2000: 171-172; grifos meus).
Refere-se a esse “novo estado de coisas” como advento de mudanças na estrutura produtiva, que abriram novos caminhos à intensidade da acumulação e às relações de trabalho entre os sujeitos da produção, passando a ser conduzidos para além da mera exploração da terra e da servidão, experimentando a maior complexidade sintetizada em terra, capital e trabalho livre.
Tais transformações viriam se dando desde então, e não apenas no cenário brasileiro, bem como em outros âmbitos latino-americanos. Assim, ganharam corpo e densidade nas primeiras décadas do século XX, sobretudo em decorrência do cosmopolitismo de alguns centros urbanos, que, consequentemente, foram os primeiros locais a vivenciarem seus efeitos.
Por seu turno, as relações entre trabalhadores e patrões em outras áreas e setores, como os agropecuários, permaneceram imersos nos laços tradicionais de produção, reproduzindo aqueles entre proprietários e trabalhadores servis ou semi-servis, herdadas da colonização. Isto se daria em face da própria dinâmica societária, pois, se o processo colonizador é fruto de um capital mercantilista, não se desfez de todas as formas feudais europeias e segue contaminado por expressões econômicas e sociais da estrutura anterior, que resistiam à reestruturação econômica estabelecida no século XVI, sobretudo em virtude de lhe serem convenientes.
Por sua vez, mesmo a nova ordem industrial do liberalismo econômico, implantada no final do XIX, manteve velhas práticas patriarcais, clientelistas, patrimonialistas, que se mesclaram ao ordenamento que nascia, propiciando características aparentemente contraditórias, na medida em que buscavam romper com a ótica da baixa acumulação pré-capitalista, mas mantinham explorações nos moldes da escravidão, da vassalagem ou da servidão sobre a força de trabalho. Resulta a contenção do potencial expansionista do capital, inclusive por estabelecer ao mínimo a possibilidade de consumo dos trabalhadores, essência recorrente da cultura senhorial. Daí que, como outros analistas do Brasil, Buarque de Holanda constatou em nossa cultura política e, consequentemente, social, que
a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomoda-la onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e nos discursos (idem:160).
Os fatos e as imagens recorrentes do passado colonial-escravista conferem-lhe matizes de um capital arcaico, baseado na posse da terra, sem que haja a consolidação dessa com o capital e o trabalho livre, e sim a predominância da extração da riqueza da terra por meio daquele trabalho servil. O do trabalho livre possibilitaria, por um lado, melhores condições de reprodução da força de trabalho, e, por outro, níveis mais ampliados de acumulação. Mas resiste e caracteriza-se pela exploração intensiva e extrema do trabalhador, restringindo drasticamente a reprodução quotidiana da sua força de trabalho, bem como da sua reprodução geracional, na medida em que limita ao extremo o acesso aos elementos de consumo básicos á sobrevivência.
Distanciada do acesso à informação — a grande estratégia da produção — historicamente, grande parte da população aliena-se; ignorando os porquês, cumpre a sina dos vulneráveis, quase sempre sobrevivendo na mudez e na invisibilidade. São os excluídos do desfrute da produção, inclusive da sua própria. São mantidos fora dos palcos político-sociais, pois suas vozes são demasiadamente fracas para serem ouvidas. E quando não são, provocam o eco de velhas sentenças reforçadoras da “pequena condição humana” dos que ousam falar, como é o emblemático caso dos que se articulam com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, que são retratados como ignorantes, vândalos, violentos, pelos meios de comunicação de massa e, assim, criminalizados.
Todavia, o germe da tal “revolução vertical” apontada por Buarque de Holanda, segue crescendo. Se as mudanças são direcionadas a partir das elites, ainda assim muitas negociações foram construídas entre o patronato e os trabalhadores, nas décadas seguintes. Disto resultaram alguns avanços reais para categorias selecionadas de trabalhadores, ainda que segundo o padrão operacional “semilampedusiano”, como adjetiva Oliveira (1999; 59), ou seja, “entrega-se os anéis para se preservar dedos e mãos”.
Isso se deveu ao fato de que se essas categorias, embora completamente submetidas ao jugo da produção, não estarem mais dispersas, como os trabalhadores domésticos e os rurais, por exemplo. Pelo contrário, estão juntas nas fábricas, nas vilas operárias, nos centros recreativos, onde se distraem, jogam e discutem as notícias da imprensa. Finalmente, estão juntas nas associações de ajuda mútua, nas ligas profissionais e nos sindicatos.
O final do século XIX e o início do seguinte são períodos marcados pelo signo do conflito entre operários e patrões dos setores mais avançados da economia, pois — além das mudanças no parque produtivo, ensejarem a incorporação dos trabalhadores livres e expandirem as condições de conscientização, ao aproximá-los — outras variáveis, inclusive as lutas operárias desenvolvidas no exterior, interferem, fazendo recrudescentes os conflitos, expandindo as oportunidades de negociação.
Contudo tais movimentos não se dão linearmente. Na medida em que algumas categorias de trabalhadores se organizam e conquistam poder de pressão, as práticas repressivas voltam a se aglutinar, buscando novas respostas para preservar os privilégios de sempre. Não é à toa que a maior parte do século XX tenha sido vivida, no Brasil, sob emblemas ditatoriais, capazes de restringirem os espaços de expressão do contraditório.
A história brasileira, desde a Revolução de 30, mostra que no espaço de 60 anos é possível contar com duas ditaduras, a de Vargas entre 1930 e 1945 e a que se seguiu ao golpe militar de 64, até 1984 (...) (Oliveira; op.cit.: 60).
O primeiro governo de Vargas é emblemático para a percepção do discurso ideológico das elites representadas no Estado. Instaurando o populismo, Vargas recebe o apoio das massas trabalhadoras, estabelecendo a legislação trabalhista, inspirada nas leis de Mussolini. Essas leis valem para algumas categorias de trabalhadores, exatamente aquelas capazes de exercitar pressão. Através de seu poder de persuasão e do muito bom uso das instâncias difusoras das falas oficiais, o presidente ganha adesões e reconhecimento popular.
Aos poucos, essas mesmas instâncias vão transformando as conquistas das lutas operárias em concessão de direitos por parte do Estado, da mesma forma como o fez Getúlio, criando para si próprio a imagem de “o pai dos pobres”, o único que, até então, “ouvira” o clamor de parcelas oprimidas. Mas, convém acentuar, só daquelas que conseguiram se fazer audíveis.
Fizeram-se! E foram caladas, acomodadas; entram em processo de refluxo e perdem o sentido de classe para si, por meio da qualidade do discurso do “grande doador”, das forças políticas que este representava então e das subsequentes. De qualquer sorte, contudo, foram criados instrumentos legais redutores da exploração do capital sobre setores do trabalho.
Porém, cumprindo a força das contradeterminações, voltam a ser audíveis nos anos cinquenta e sessenta, quando multidões ganham as ruas, nas cidades e ecoam no campo. Os movimentos democráticos se sucedem e se intensificam na cena política, promovendo discussões sobre o direito de todos à escola, à cultura, às artes, sobre o direito de todos à posse e ao uso da terra. Esse é o período quando se fazem visíveis amplos movimentos sociais no Nordeste, reivindicando maior espaço político-social para as massas populares. Mas, logo, dá-se mais um recuo, provocado pelo recrudescimento do poder das elites, objetivado pelo AI5.
Voltam à cena em meados dos anos oitenta, quando derrubam a Ditadura e ensaiam a construção da democracia. Esta alcança o âmbito governamental, mas não o social. Muitos setores e segmentos de classe permanecem impregnados pelas noções tradicionais e elitistas que se valem do domínio dos meios de comunicação de massa, para permanecer propagando mensagens alienadoras.
Daí, que a personagem de Euclides Neto, embora devotado e eficaz nas suas tarefas, não consegue colher minimamente o retorno do valor do seu trabalho e angustia-se pela sua incapacidade de suprir de bens básicos sua família. Por isso seus filhos são desnutridos, desnudos, e ele anseia por cobrir, pelo menos, a seminudez das filhas, assim expostas aos perigos da luxúria alheia: outra forma de exploração e de negação humana.
...na hora de comprar o metro de pano, a coberta dorme-bem, uma bobagem qualquer, cadê o dinheiro? Quando os meninos eram menorezinhos, iam ficando buguelos, as meninas com calcinhas encardidas. As mais velhas — por falta de sorte eram fêmeas — já tinham virado mulher. Queriam vestidos e não podiam aparecer assim sem roupa.
Senhor Casimiro nem ligava. (p.5).
Não por acaso o romancista inicia seu relato apresentando a figura central da narração não como a sua própria, de ser vivente com uma história, trabalhador, pai de família, mas aquela decorrente da sua posição-função subsumida, que traduz a sua subserviência: “o vaqueiro do Senhor Casimiro”. O Senhor, com maiúsculas, símbolo do arbítrio e da violência, cobra a dedicação ao trabalho e confia na submissão do vaqueiro, afinal a sujeição está inscrita nas relações sociais como um código estabelecido num social antigo; tão antigo, que suas regras não parecem ter sido escritas pelos homens em sua vivência histórica, mas tendem a ser vistas como formuladas num além-social, seja nos âmbitos da divindade seja na organização da natureza — no além ou no aquém; assim, inalcançáveis, imutáveis e determinantes, além de inquestionáveis.
Dessa forma, patrão e empregado estão impregnados pelas noções ideológicas de imutabilidade, conhecem os seus “lugares”. Até que, em determinado momento, forças sociais contraditórias iniciam um movimento objetando as determinações alienantes. Mesclando-se ao panorama que impõe a permanência, entram nas linhas do romance, questionando o trabalhador, buscando esclarecê-lo quanto aos direitos trabalhistas.
Mas, congelado em sua incredulidade secular, Tomás — como o homônimo bíblico — duvida da possibilidade e eficácia de ações, mesmo porque os esclarecidos da sua classe, aqueles da região que buscaram enfrentamento classista e a construção da consciência de classe para si por meio de ações sindicais, sofreram extremas e exterminadoras consequências pela ousadia de contestações. Os que se arvoraram a fazê-las penaram pela impertinência.
A ansiedade em atender suas necessidades urgentes e de sua família, adubadas pela incerteza dos frutos das lutas de classe e, sobretudo, pela impossibilidade de reconhecer as razões subsumidas às relações produtivas, visto que obliteradas pela cultura de subordinação, o impelem à busca de reações-soluções imediatas e isoladas — mesmo porque ele está só há gerações. E age. Se sua vida já era uma condenação, sublevado confirma sua danação.
Imerso na desinformação, opta por resolver suas carências materiais e de justiça furtivamente. O seu trabalho inclui a venda e entrega de animais do patrão, e ele passa a vender mais do que declara.
Evidentemente, esse é um caminho curto. Se o outro, das lutas coletivas, implica em riscos radicais, demandando pressão contínua e construção de tempo histórico, as ações individuais estão fadadas ao fracasso. Assim, em pouco tempo o Senhor Casimiro desconfia da trama e sai farejando pistas. Uma das primeiras que encontra é a melhoria das condições de vida da família do trabalhador:
Ali estava a certeza do furto. Comida à beça no mocô do fogão. Sela nova dependurada no quarto. Rádio ligado sem parar. Até retrato ampliado dele mais a Lindaura, com enfeites de ouro e prata, lá na parede. E máquina de pé!” (p. 25).
Ao vaqueiro cabe o desespero frente ao risco da desonra, caso se comprove o furto. Honra, aquele princípio ético que é cobrado de uma classe, enquanto a outra, a que o imprime, dificilmente o segue. É uma das muitas formas de se fazer cumprir a “ordem”, imposta pelos que mandam no social. Tomás não sustentaria essa perda; assim, desesperado, quebra outro preceito, ainda mais grave. Comete o crime, tentando aquele que o exporia moralmente. Mas, entram em cena outros matizes de Controle Social: os da moralidade espiritual, marcados nele como ferro em brasa, fazendo-o mergulhar na angústia do remorso; e os do Direito, com sua coerção e penalidades objetivas, impostas aos submetidos que ousam responder às agressões de seus superiores.
Eis a trama que Euclides Neto constrói — ou reconstrói — observando o social. A história das relações produtivas, sendo fiel ao modelo de implantação colonialista e escravocrata, organiza-se reproduzindo explorações intensas por parte de grupos dominantes sobre outros. Os primeiros se valem das forças militar e ideológica, que, impondo a submissão pelas armas, alienando e atribuindo estigmas e estereótipos aos demais, anulam-nos politicamente. Reprisam segregações ao longo do tempo histórico, mesmo que as organizações produtivas se reestruturem. Assim, asseguram o controle da posse da maioria absoluta dos bens materiais e culturais.
Certamente, o caso Tomás foi um dos muitos em que Euclides Neto atuou como advogado de defesa. Como um Luiz Gama contemporâneo, dedicou-se à defesa de escravizados criminalizados.
Esse é um dos traços da invulgar e sofisticada personalidade do autor, pois, apesar de ter sido um proprietário rural, esse advogado, político, romancista e filólogo, traindo sua classe, militou por toda a sua vida ao lado dos oprimidos; não apenas por consciência político-ideológica, mas, sobretudo, por comprometer-se utopicamente com um futuro estruturado em relações mais sábias e, portanto, mais humanas, por garantir melhorias de vida e de segurança para todos.
Referências:
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: Globo; Publifolha, 2000.
.OLIVEIRA, Francisco.Privatização do público, destituição da fala e anulação política: o totalitarismo neoliberal. In: Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e a hegemonia global. Francisco de Oliveira e Maria Célia Paoli (Orgs.).– Petrópolis: Vozes;Brasília: NEDIC, 1999.