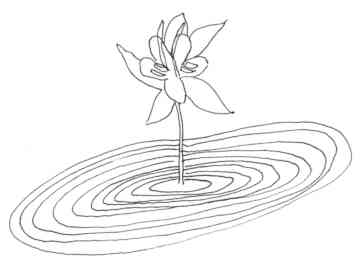A voz grapiúna
James Amado
Apresentação em “Dicionareco” - primeira edição - 1997
Um livro raro, talvez único na bibliografia grapiúna, este dicionário das roças de cacau é a contribuição mais recente de Euclides Neto ao conhecimento aprofundado da população de lavradores dessa região de monocultura. A lavoura vem sendo devastada pela praga da vassoura-de-bruxa, que a ameaça com a extinção. O dicionarista volta-se, porém, para um perigo que considera igualmente terrível: a televisão e o rádio, espécie de língua geral, hegemônica, apoiada em imagens em movimento, coloridas, conjunto irresistível. Esta praga é inteiramente contrária às práticas do cotidiano do plantar, colher e secar o cacau, atividades que geraram, no momento da cultura grapiúna, a dição particular do lavrador, definidora de sua identidade. Daí esse volume precioso em que ele busca reunir, e assim preservar, a fala dessas tantas vozes anônimas, o murmúrio coletivo de uma condição social permanentemente aviltada, mas que, ainda assim, resiste e se reconhece em sua essência humana através da dição brotada no dia a dia da labuta pela vida e pela dignidade. Nascido sob tais pressões, não é de estranhar que este dicionário respire um ar de matéria de memória. Não é demérito.
Segundo seu autor, é fruto de um “caxixe”. Diz ele, ao dirigir-se ao leitor, que avançou as cercas de sua propriedade, devidamente titulada e comprada com dinheiro suado – o terreno fértil do romance e do conto, que ele trabalha com a competência que toda a crítica lhe reconhece nacionalmente – por sobre capoeiras sem cultivo e ainda sem dono. Sem licenciatura de dialetólogo, fez a “catagem” dos frutos, juntou-os numa “bandeira”, sentou-se no banquinho de um palmo de altura, empunhou o toco do facão de oito polegadas, pôs-se a quebrá-los, e agora exibe essas suas amêndoas, recém-nascidas, ainda envoltas na polpa branca do mel de raro sabor. Os homens e mulheres, quase despercebidos debaixo dos galhos trançados do cacaueiro, não tiveram de pedir a qualquer autoridade licença para estruturar sua fala rude. E sabem todos eles que aquele magriço bom, sempre em mangas de camisa, é “doutor de anel de grau” e, mais do que isso, por notório saber de quanto há, coisa ou vivente, no mundo cacaueiro. Esta autoridade é comprovada na excelência do trabalho feito para este volume.
Pelo vasto mundo afora, nas terras americanas da Bolívia, Peru e Uruguai, na península Ibérica, na França, na Itália, para só falar do universo latino, as línguas de resistência se afirmam, algumas até como línguas de cultura, para preservar a identidade e o lugar de quíchuas e aimarás, índios e guaranis, galegos, vizcainhos e catalães, e os ocitanos. Na Itália, os muitos dialetos afirmam natalidade e gênios diferenciados à população que se reúne na musicalidade da língua comum. Muitos desses idiomas alcançam status de notável produção literária e artística. A fala dos roceiros de Euclides Neto não aspira sequer ao dialeto, mas se caracteriza suficientemente para reivindicar parentesco pobre e miúdo com toda essa gente, por via do momento de sua dição, breve de um século, desde as ruínas dos engenhos da capitania de Jorge Figueiredo Corrêa aos desbravadores da mata virgem, que subiram os rios com as sementes do cacau e da fala roufenha de seus “alugados”. Tempo tão curto e já ameaçado de ter fim.
Humilde e desconfiado, Euclides Neto (segundo Hélio Pólvora, o último escritor a se utilizar da modéstia) considera que este seu trabalho é um dicionário a caminho e necessitado de ajuda dos seus leitores dispostos a colaborar com a boa causa de engordá-lo com novos verbetes. Não fujo ao convite:
Barcaça (cf. p.). Quando o menino Euclides vinha da roça, corria para a curva do morro de São Sebastião, defronte da casa de Eusínio Lavigne, trepava pelas pedras, de onde avistava o garrafão de água serena do porto velho, cujo gargalo era o canal estreito de saída para o mar. Daquela posição privilegiada, ele acompanhava o lento deslizar do casco da barcaça, puxado silenciosamente pelo primeiro aceno da maré vazante, alinhando-se, cauteloso, sem vontade própria, só com um quarto da primeira vela içado, passando rente à encosta do morro de São Paulo. Somente a voz do marujo da sonda, cortando o ar: dez pés, oito, seis, a quilha roçando as pedras do fundo, fugindo ao encalhe, até que, transposto o canal, o menino suspirava aliviado e a barcaça içava rapidamente seus três panos enormes, e a bujarrona disparava literalmente para a pedra do Roca, onde aprumava rumo. Euclides apurava a vista para gravar na retina o instante de beleza plena: a silhueta da barcaça, casco ligeiro e velas altas e brancas contra o fundo sem fim de céu e mar.
Quando o menino tornava à roça, compunha com o barcaceiro o duo encarregado de pisotear o cacau que a chuva insistente, por dias inteiros, não deixara secar. Uma gosma espessa juntava as amêndoas em bolos que era preciso desfazer com os pés e tirar a cinza, que rebaixaria a qualidade do cacau seco. Os dedos enfiavam-se por entre as sementes, forçando-as a se desprender umas das outras. Por um momento, o menino se sentia um rei capaz de pisar com os pés tamanha riqueza. E juntava, no peito anelante, as duas barcaças: a do mar, sonho de partida para a aventura, o mistério de sentir-se livre, e a da roça, o sonho da riqueza por um momento ali, vivo, debaixo dos seus pés. Da casa da fazenda, o grito do coronel quebrava o encantamento: “Euclides, corre, fecha a barcaça, que vem uma manga das grandes, é água pra uma hora inteira”. O barcaceiro e o menino empurravam o teto retrátil coberto com zinco, faziam-no correr nos trilhos de ferro, e era como se içassem as grandes velas da barcaça do mar.
Laporte. Certo dia, no fim dos anos 1940, visitei meu amigo Chafic Luedy na sua fazenda de gado no Ouro, vítima de um acidente: caíra do alto dos sete palmos e meio de sua mula estradeira e resmungava contra uns dias de repouso obrigatório. A imobilidade não casava com seu corpo forte e a estampa alta de sua figura lendária de um dos raros coronéis que tinham poder sobre a morte. O corpo desaparecia no fundo da rede, apareciam a cabeça forte e as mãos peludas segurando um livro. Olhei a capa da brochura, meu espanto permanece até hoje: A origem da família, da propriedade privada e do Estado, de Friedrich Engels. Deixou de lado o livro, informou-me de sua saúde: “Ontem estava meio banzé, sentia dores, mas hoje já estou laporte”. Perguntei-lhe de onde vinha um tal adjetivo. Chafic tomou do rifle a seu lado, apontou-me a marca da fábrica na coronha, aquela palavra gravada em pequena placa: “É francesa ou belga, não sei bem. Mas não há nada ou ninguém mais laporte”.
Embeleco. Situação complicada, desvantajosa, da qual urge escapulir a qualquer preço.
No texto explicativo deste dicionário, o autor parece dizer com boas palavras: “Esta empreitada me meteu num embeleco dos diabos”. Mas quem tem a pele curtida em outros embelecos tanto aguenta o sereno da boca da noite quanto o da barra do dia.