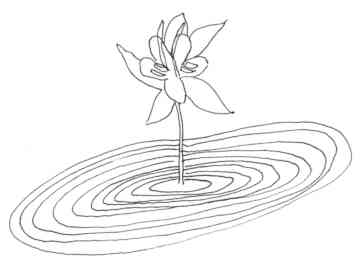A enxada
Hélio Pólvora
Artigo em “A enxada” - 1969
Romance de Euclides Neto, segundo ele próprio, Littera Editores Ltda., São Paulo, l996, 1a edição, é obra literária que ressurge da mente fértil e sôfrega por justiça de um escritor nordestino que tem pautado o seu comportamento sóciopolíticofilosófico no denunciar as injustiças sociais de todos os matizes e tons.
Já o disse em conversas e ponho no papel, Sr. Euclides Neto não fica por detrás de uma Raquel de Queiroz, de um Graciliano Ramos, de um José Lins do Rego, e, nesta sua obra sob comento, trechos há que, pelo registro do Português falado por suas criaturas, lembramo-nos de Guimarães Rosa em seu insubstituível Grande Sertão: veredas.
De trama e de roteiro simples, com um único núcleo dramático, A enxada retrata com mestria, arte e magia a vida das pessoas pobres, analfabetas, camponesas, sem terra, sem eira nem beira, a partir de um personagem padrão, Albertina, depois de frustrada tentativa de viver na cidade, onde não se adaptou, e de onde foi enxotada por falsa cidadã burguesa, sob o argumento de que “só serve pra o cabo da enxada”, na cidade de jequié, por ter quebrado um vaso chinês de porcelana, da casa em que servia como empregada doméstica. Este o mote do romance, salvo engano.
Os arredores de Jequié, Contendas do Sincorá, Chapadão do Miranda, prenhas do Maracás e divisas de Vitória da Conquista fazem o espaço e cenário, simultaneamente rico e pobre, exuberante e cruel, generoso e mesquinho da natureza mineral, vegetal e animal que as personagens conhecem e dominam como ninguém. Tudo na Chapada Diamantina. O autor manipula bem os personagens centrais — Albertina, d. Mocinha e Seu Miranda, este bom e generoso em sua fazenda, já insolvente, mas dadivoso, que faz o leitor recordar o Coronel de José Lins do Rego, em Fogo Morto, como os delírios de Albertina faz lembrar José Amaro, se não exagero.
É na bruteza do caco da enxada, no cerrado bruto sem horizontes ou de horizonte infinito, indiferente e às vezes cruel da Chapada que as sua criaturas se realizam, longe e distante da inveja, da falsidade, da cobiça, da esperteza e da estupidez camuflada dos homens e das mulheres ditos civilizados das cidades. Implicitamente está o autor a denunciar a desgraça que é o êxodo rural para muitos homens e mulheres que não encontram estímulo das “forças vivas da nação”, para continuarem a vida no seu habitat original com trabalho e prosperidade. Não é à toa que o autor engendra um “final feliz” em que contrapõe Albertina, rica e próspera, com a decadência e a insolvência da mulher de Seu Manduca, a patroa que a enxotou de sua casa em Jequié.
É sintomático também o labor incansável de Albertina, tisnada pelo sol, ao ponto de ficar roxa, quase preta como uma cascavel e sua coragem para enfrentar a adversidade, desesperada, mas sem perder a esperança e sem nunca maldizer o seu Deus, de tal modo que ainda encontra forças e alento para criar um menor abandonado, achado, em sua fuga de Jequié.
Albertina, Adelaide, Margarida, Lucinda, Apolinário, Juquinha, Januário, João, Julinda, digo Julinho, Rosália, Berenice, Coisa e Achado, Cholinha e Formosa, estas duas últimas animais humanizados, com todo sofrimento, vivem a verdadeira alegria franciscana, que nenhum membro da Ordem Seráfica pratica mais no mundo de hoje, contaminado pelo consumismo a qualquer preço e custo. E ainda têm tempo de lamentar a má sorte de Canjirana e de Crementino que se perderam no “oco do mundo”, um desaparecido e outro matado pela polícia, uma das vergonhas do País.
A Toca da Onça, divisa com Maracá, Jequié, passou a ser de fartura e abundância, graças à coragem e ao labor de Albertina, secundado pela generosidade e pela bondade de d. Mocinha e de seu Manduca. A riqueza da Natureza que faz o sol e a lua separarem os dias das noites, a brisa e o vento para auxiliar a respiração de todos os seres vivos, não ficaram indiferentes aos esforços de Albertina e filhos.
Se a forma ou estrutura, na visão do autor, é o romance descomplicado e linear, cujo narrador acompanha com sua câmera todos os passos dos personagens — para mim, um conto, de espaço ampliado — admirável o recurso de linguagem de que se valeu para concretizar a verossimilhança de fatos impossíveis, entre os quais, o próprio final feliz. A simplicidade vocabular está distante da riqueza de linguagem do autor, haja vista as ricas metáforas encontradiças aqui e ali no correr da narrativa. Se o conteúdo é a miséria absoluta do homem da roça na sua ingenuidade e na sua luta para vencer a brutalidade do destino que não pediu para vivenciá-lo, a fala tem de ser a apanhada pelo narrador a primeira mão, tal qual o som emitido pelo personagem, instintivamente, sem pensar e ou repensar o vocábulo. É assim que exsurge e ressurge a enxada, e mais do que a enxada, o cacumbu, enxada velha, quase imprestável, daí porque abandonada — Albertina já a achou no mato, lá onde foi deixada por d. Mocinha — no seu “briquitar” com a terra virgem da Chapada Diamantina.
Para autenticidade do texto, as falas espontâneas dos roceiros com expressões tais “isturdia” (certo dia), “ruma” (monte), “renca“ (porção ou bando), “tetraora“ (até outra hora), “inté” (até), além de palavras pronunciadas com fonemas de menos ou de mais, outras registradas sem o grafema ou morfema vernacular, contrapõem-se a metáforas encantadoras que propositadamente o narrador deixa escapar, como:
“Albertina parava, olhava as nuvens brincalhonas no céu encapotado para chover” (beleza de personificação!);
A humanização dos animais Cholinha, Formosa, o Bode,os pássaros, etc.
A descrição incomparável da cascavel na sua indizível amizade com a criança... e esta:
“Horas pretas da noite, horas brancas, vermelhas, azuladas, cor de chumbo, pintadas pela cor do tempo”, no cap. 17, fl. 67 com que fecha a descrição que faz do encontro da cobra cascavel com Cholinha, o Vaqueiro, o cavaleiro digo o cavalo campeiro não deixa a desejar a maestria de escritores mais renomados. A cena, além de bem posta, é bem escrita e sintética, e o digo sem puxa-saquismo (conheço o autor à distância), daí a isenção, a não ser que traído pelo gosto que tenho por Literatura.
Denuncio que a opinião do autor nas orelhas do livro e no fundo da capa é mera modéstia, receio justo de elogiar-se a si mesmo.
Ouso dizer que se primitivo é o romance, talvez o seja do ponto de vista filosófico por abraçar a teoria do “bon sauvage” (J.J. Rousseau) — d. Mocinha, seu Manduca e Abertina são bons que beiram à ingenuidade. Mas, se se pensa no desprezo à lógica da realidade, na valorização do sonho, do impossível, pode-se até pensar em surrealismo que tem como suporte a realidade nua e crua de um país que ainda não quis se assumir tal qual é como povo e como nação. Não erra a boa crítica em dizer que o mestre Euclides ziguezagueia entre o real e o irreal, dança e contradança entre o primitivismo e o surrealismo, para fazer o sonho ou o delírio confundir-se com a realidade, fazendo a síntese da natureza mineral, vegetal e animal com a natureza humana em que não se distinguem com nitidez os efeitos do bem e do mal, porque há mal que vem para o bem.